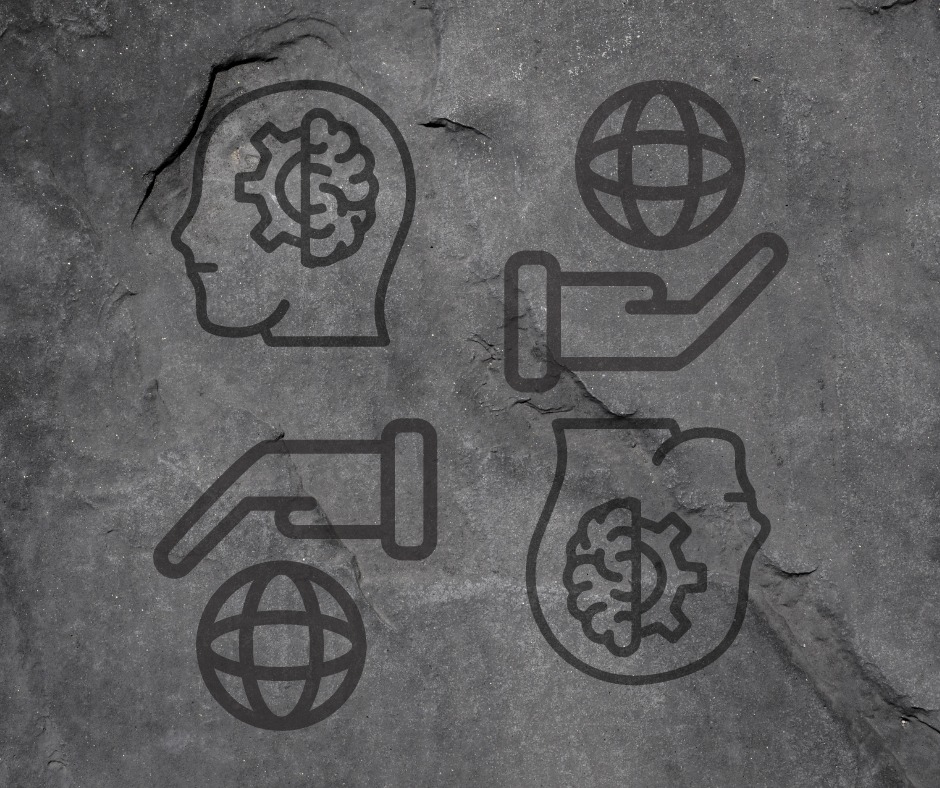
Comecei a semana com alguns sentimentos que os mais jovens podem rotular de saudosismo, e até os nem tão jovens assim, mas também nem tão velhos. Aliás, vou deixar de lado essa questão sobre jovens e velhos porque isso dá outros panos para outras mangas. Esse desvio de percurso foi só para tentar definir o que é saudosismo e o que é arquivo da memória de quem viveu acontecimentos, tempos diferentes, e que percebe nesses seus guardados alguns valores.
Pois bem, me peguei a lembrar de momentos vividos em um tempo em que as pessoas tinham uma comunicação direta. Tempos em que existia uma coisa chamada “conversa”. E era assim: as pessoas ficavam frente a frente, e falavam umas com as outras, ou uma com a outra. Era bem interessante. Na minha infância, por exemplo, lembro bem que enquanto brincava na rua minha mãe ficava no portão de casa onde “conversava” com a vizinha. Brincando livre eu inventava mundos, e minha mãe partilhava o seu mundo com o da vizinha – isso era o que se chamava de “conversa”. Quando adolescente, cismei que queria fumar, minha mãe comprou uma carteira de cigarros e me disse que ia fumar comigo. Ela não era fumante. Então, todas as noites sentávamos em um banco no terraço de casa para fumar e, “conversar”. Na terceira carteira de cigarros conversamos sobre a bobagem daquilo que ia virar vício e resolvemos ficar só com a parte de ir para o terraço após o jantar para “conversar”. Minha mãe era uma pessoa que sabia ouvir de uma forma bonita e inteira: olhos, ouvidos, presença. Sinto saudades de nossas conversas. Saudades sem saudosismo porque sei que a vida por aqui é passageira e que nossas conversas foram presentes de um tempo. Que bom que aconteceram e posso, quando quero, fechar os olhos e quase reviver aqueles momentos.
Na casa de meu avô materno, quase todas as noites havia encontro de vizinhos para jogar, ouvir discos de vinil na velha vitrola (onde comecei a gostar de jazz e blues) e, “conversar”. Eram encontros divertidos, de muitas risadas e muitas vozes. Depois meu avô se foi. Ele tinha que ir porque seus olhos foram roubados do céu – deveria ter um prazo para devolução, e aquele par de um azul infinito adentrava pelos olhos de seus interlocutores, atentos ao que diziam. Eu gostava de falar e de me ver no azul dos olhos de meu avô que brilhavam de amor enquanto me escutava. Então, já adulta, em quase todos sábado eu ia à casa de meu avô, então casa de minhas tias, com a tarefa de fazer tapioca para o café da tarde. Em volta da mesa, sentávamos cinco mulheres: eu, minha mãe e minhas três tias, e as rodadas de café esquentavam nossas conversas e risadas.
Quando busco lembranças remotas do que era isso de “conversar”, essas me aparecem como as mais preciosas que tenho em meu arquivo. Talvez porque tenha sido aí que descobri que pessoas são capazes de falar e de ouvir. Pessoas são capazes de trocas, de se perceberem umas as outras, de se respeitarem e de não temer umas as outras.
Na minha vida afora, usei muito dessa coisa de “conversa” e tive muitas bem interessantes. Conversas amorosas – porque para mim não existe amor sem uma boa conversa. Conversas de mesa de bar – nem conto quantas até uns tempos desses. Conversas entre amigas ou entre amigos. Conversas com desconhecidos. “Conversas”… que palavra estranha.
E se for falar na vida profissional, aí é conversa que não acaba mais. Hoje estou produtora cultural e me reconhecendo escritora, mas sou (ou fui?) assistente social e exerci a minha profissão durante trinta anos. A fala, a escuta e alguma capacidade de conhecer um ser humano, foram por todo esse tempo o meu único instrumento de trabalho. Falar, escutar e reconhecer diante de si um ser humano, nada mais é do que “conversar”. Nunca tive um discurso profissional, sempre usei dessa coisa obsoleta, “a conversa” – porque é mais viva, capaz de criar sentidos e acolher sentimentos. Capaz também de transformar pessoas.
Lembro da primeira vez em que falei para uma sala cheia de moradores de uma comunidade. Eu era muito jovem, nem bem havia começado o meu curso, mas já trabalhava com comunidades em programas sociais da prefeitura de minha cidade. Essa era uma das reuniões das quais eu ia sempre com dois colegas, uma assistente social e um sociólogo, e até então eu apenas ouvia. Aconteceu que em uma dessas reuniões, não lembro por qual motivo, eu tive que ir sozinha. Ao me ver ali naquela sala de uma associação de moradores, lotada de gente ávida por soluções para inúmeros problemas, e em busca de esperança, comecei a falar e ainda bem que me deram como lugar uma mesa e uma cadeira onde passei todo o tempo sentada, porque o fato é que consegui falar o que tinha para ser dito, mas tremia tanto, que ao chegar em casa percebi duas enormes marcas vermelhas na parte interna dos dois joelhos: resultado do tanto que bati uma perna contra a outra durante a tremedeira. Mas naquela noite, quando as pessoas começaram a interagir comigo eu decidi que a “conversa” seria a minha companheira de trabalho. E com pouco tempo descobri ainda mais: eu ia para as comunidades a trabalho, eram tarefas bem definidas muitas vezes, mas eu buscava conversar com as pessoas que estavam acostumadas a sempre ouvir o que deveriam fazer. A mim interessava inverter o processo: eu ouvia, as pessoas falavam, e com base no que elas falavam eu buscava em meus conhecimentos a forma de colaborar, e assim falava também, perguntava, e perguntando levava as pessoas a questionarem, e questionávamos juntos e algo se construía com base nisso que nada mais era do que “conversas”. E eram as conversas a base de uma ação de conscientização, de reflexão e de mudanças coletivas e individuais. O tanto que aprendi ouvindo essas pessoas que passaram pela minha vida, ou que passei pela vida delas, foi o que me fez gente. É o que me faz reconhecer a mim e aos outros como seres humanos, ainda.
Quem caminhou perto de um povo que vive as margens, com um povo que tem que reinventar a vida diariamente, quem sempre soube que pessoas são colocadas em classes sociais como se fossem objetos separados em caixas – umas de ouro, outras de papelão, sempre soube também que um dia a Humanidade iria chegar a um extremo. Do ninho “do poder da grana que ergue e destrói coisas belas” era de se esperar nascer algo que apontasse para o ápice de um processo de desumanização. E se já não chegamos a esse ponto, estamos bem perto.
Nesse processo de desumanização, incluo a alienação – no sentido da separação do ser humano de sua natureza, e da sociedade de indivíduos que se tornam escravos de outros ou de algo, e também no sentido de apartar-se da realidade circundante.
Eis que surgem as redes sociais e os meios de comunicação virtual. E assim resta muito pouco do que antes existia como formas de conversas reais – no tempo e na essência. Nada pode ser mais triste a um ser humano ainda dotado de sentimentos ser substituído por uma conversa paralela no WhatsApp. E essas tem sido cenas bastante comuns nos últimos tempos. Quantas vezes se vê por aí, uma pessoa – certamente de hábitos antigos, com jeito de quem gostaria muito de ser ouvida e de ouvir, com um olhar vago, diante de outra que conversa com outras tantas em seu smartphone, sem perceber que a sua frente está um ser humano. Estamos nos acostumando a colocar todas as pessoas em uma caixinha com uma tela. Ali elas ficam bem longe, e podemos bloqueá-las, deixá-las sem resposta, ou podemos mandar carinhas sorridentes, ou coraçãozinhos ou qualquer figurinha que encerre o que poderia virar um monstrengo de conversa ou que substitua palavras que não temos mais tempo de expressar. Há quem tente, como náufrago em ilha deserta, inventar conversas em aplicativos: as modernas garrafas com mensagens atiradas nesse mar de informações. Muitas vezes não há outro jeito, as pessoas estão mais e mais preferindo que seja assim. Conversar dá trabalho, é preciso chegar perto de outro ser humano, é um exercício muito cansativo e complicado. Afinal chegar perto de outra pessoa já basta quando é necessário que se chegue, quando não tem outro jeito. Já é muito ter que conviver, e ainda bem se pode fugir da convivência bastando para isso ter um smartphone. Podemos até concluir que a invenção dessa coisa irritante chamada gente foi um erro grave, e estamos chegando finalmente, a um tempo em que podemos ser robôs.
Enquanto não chega esse tempo vamos vivendo de imagens, de filtros, de manipulações, de ódio, de crimes organizados, de mentiras, de emojis, de curtidas, e em busca de quem nos siga a lugar nenhum.
Em tempo: Sei, é claro, que existe quem faça um bom uso das redes sociais e também algumas pessoas capazes de deixar um pouco de lado os seus smartphones para fazer algo excêntrico tal como “conversar”. São pessoas em extinção, que nem os micos-leões-dourados e as foca-monge- do-mediterrâneo, mas ainda existem, pouquíssimas. E sei também do papel fundamental desses meios de comunicação durante os tempos de isolamento forçado na fase de Pandemia da Covid 19.
Em tempo 2: Você ainda sabe conversar ou já é mais um(a) dependente tecnológico?

Valeska Asfora
Escritora, Assistente Social, Mestre em políticas públicas, Educadora, Produtora Cultural. Autora do livro “Anayde Beiriz – a última confidência”(2022)


